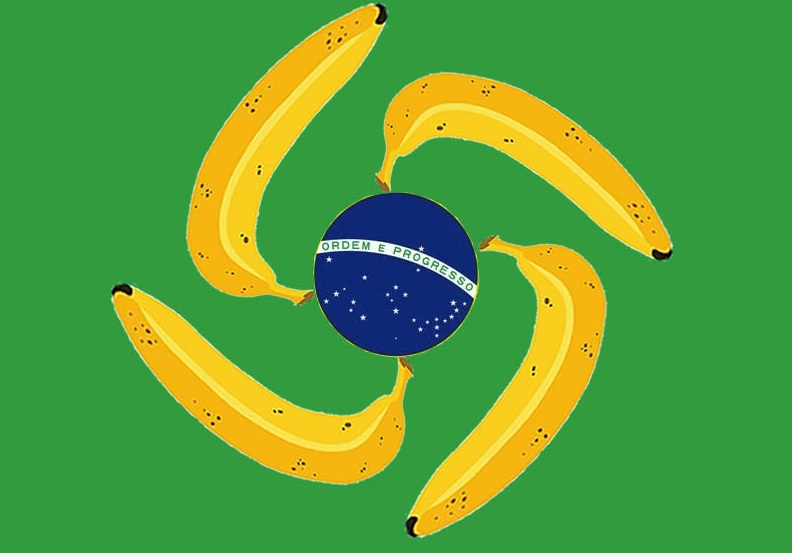Moggio Udinese, vila de 1.750 habitantes
José Horta Manzano
Vosmecê decerto conhece alguém que obteve, ou está tentando obter, o passaporte italiano. Até o começo deste ano, em matéria de transmissâo da cidadania, a Itália se comportava como verdadeira mãezona. Todo descendente de italiano, ainda que fosse de terceira, quarta, quinta geração (ou mais) tinha direito a recuperar a nacionalidade do antepassado – desde que conseguisse a prova documental da ascendência, o que nem sempre é fácil, quanto mais gerações separassem o aspirante do antepassado que emigrou.
Uma lei, votada no parlamento de Roma, veio dar um basta a essa prática que encantava mais e mais brasileiros. A possibilidade de transmissão da cidadania ficou restrita a filhos e netos do antepassado italiano. Mas por que razão foi esvaziado o antigo pacote de bondades?
Há várias razões. Entre as principais, estão as que cito abaixo.
A extrema direita
A Itália é atualmente governada por uma coalizão de direita, com forte componente de extrema-direita. A primeira-ministra, por exemplo, é Giorgia Meloni, afiliada a um partido com raízes no neofascismo do pós-guerra. Como se sabe, a direita extrema professa ideologia excludente, anti-imigração, antieuropeia, contra tudo o que não for legitimamente italiano.
Os descendentes de italianos emigrados, nascidos no exterior, têm poucas referências de italianidade. Em geral, o antepassado que chegou ao Brasil já faleceu, talvez seus filhos também. Com o tempo, a ligação com o pais de origem vai se esmaecendo. A língua e os costumes se perdem. Muitas vezes, o sobrenome é o único traço que distingue um italiano de terceira geração de um seu conterrâneo que não tenha antepassados italianos.
Além desse ponto, as autoridades italianas tinham chegado a um ponto de saturação com o comportamento de brasileiros aspirantes ao cobiçado passaporte.
Os candidatos
Para obtenção do reconhecimento da nacionalidade, a regra era (e continua sendo) entrar com a papelada no Brasil, por meio do consulado italiano, em seguida aguardar o andamento do processo. Estes últimos tempos, porém, a fila estava comprida e a espera era longa e angustiante.
O brasileiro, pouco afeito a se conformar a regras (que são sempre feitas para os outros, não para ele), procurou – e encontrou – atalhos para furar a fila e passar à frente dos outros.
Um caminho que os mais abonados utilizaram foi entrar com um processo administrativo na Itália exigindo a outorga dos documentos italianos aos quais tinham direito. Pouco acostumada a ver a Justiça sendo usada de atalho, a Itália não pôde deixar de dar seguimento às solicitações e fazer esses requerentes passarem à frente dos outros.
Não preparadas para enfrentar essa montanha de novos pedidos, as prefeituras dos vilarejos, lutando com falta de pessoal, tiveram de tirar funcionários de outras funções e deslocá-los para cuidar da inscrição dos “novos” cidadãos. A grita chegou aos ouvidos dos deputados em Roma.
Vosmecê pode argumentar que a imigração italiana não se dirigiu somente ao Brasil, mas também a outros países. Tem razão, mas os maiores contingentes se deslocaram para o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. Os que foram para a América do Norte não parecem mui desejosos de recuperar a antiga nacionalidade. Os argentinos já descobriram o caminho das pedras há décadas e, hoje, já têm em mãos o precioso documento. Sobram os brasileiros, que só se aglomeraram à porta dos consulados nos últimos 20 ou 25 anos.
Bom, deu ruim, como convém dizer. Quem tem pai, mãe ou avós italianos, está salvo. Mas é bom não facilitar e correr já, porque leis podem piorar a todo momento. Quem só tem bisavô ou antepassado mais distante, pode dizer adeus.

Nossa característica nacional de achar normal passar a perna nos outros para obter vantagem pessoal, ainda que seja por vias ilegais, aprontou mais uma.
O MP da região da Venezia Giulia (norte da Itália) ficou encafifado com o fato de Moggio Udinese, um vilarejo das redondezas, de somente 1.750 habitantes, ter recebido nada menos que 84 solicitações de reconhecimento de cidadania italiana nos últimos 6 anos, todas provenientes de requerentes brasileiros. Todos eles declaravam residir na vila, sempre no mesmo imóvel, com atestado de residência em perfeita ordem, fornecido pela prefeitura. Muito estranho.
Feitas as investigações, descobriu-se que a clientela de brasileiros era presa fácil para qualquer quadrilha, ainda que mambembe. Com atestados falsos, documentação adulterada, cumplicidade de funcionários da prefeitura e, mui provavelmente, anuência do prefeito, estava formada a corrente da felicidade. Pela módica soma de 6.000 euros (37 mil reais), às vezes um pouco mais, o aspirante acabava conseguindo seu passaporte no prazo de um ano. Talvez precisasse apresentar-se uma ou duas vezes pessoalmente na Itália, para comprovar a presença. Se preferisse não ter de vir à Itália, bastava pagar um suplemento.
A notícia saiu hoje nos jornais da região da Venezia Giulia. Não se sabe ainda quais serão as consequências da falcatrua. Por mim, confiscava os documentos italianos dessa turma toda, e mandava cada um para o fim da fila, a esperar sua vez como todos os outros. Se quisessem obter restituição dos seis mil euros, que processassem o chefe do bando.